Por Luís Ramon Alvares*


Tire suas dúvidas pelo WhatsApp (clique aqui).
NORMATIVA / NORMA LEGAL
O Provimento n. 100, de 26/05/2020, do Conselho Nacional da Justiça (CNJ), dispõe sobre a prática de atos notariais eletrônicos utilizando o sistema e-Notariado, cria a Matrícula Notarial Eletrônica-MNE e dá outras providências.
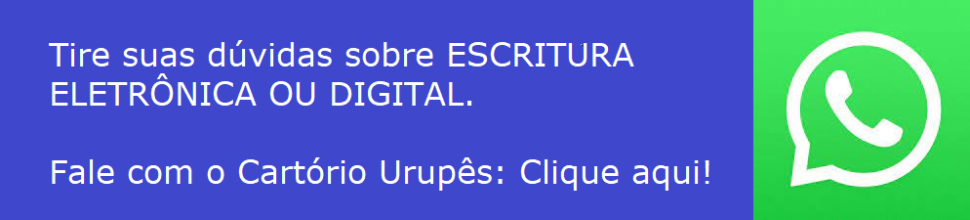
O QUE É ESCRITURA ELETRÔNICA OU DIGITAL?
No Livro “O Que Você Precisa Saber sobre o Cartório De Notas (Editora Crono, 2016, Autor Luís Ramon Alvares)”, consta a seguinte definição de Escritura Pública:
É o ato praticado pelo Notário, em seu livro de Notas, pelo qual se formaliza juridicamente a vontade dos interessados, tendo por objeto criar, modificar ou extinguir direito.
A escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena. (art. 215 do CPC).
Pode-se dizer que a escritura é o retrato de um negócio. E a Escritura Pública é o melhor retrato jurídico do negócio realizado.
Adequando-se ao Provimento n. 100/2020 do CNJ, chega-se à seguinte definição / conceituação:
CONCEITO
A Escritura Eletrônica ou Digital é o ato praticado pelo Notário, em seu livro de Notas, pelo qual se formaliza juridicamente a vontade dos interessados exteriorizada por meio de videoconferência e mediante assinatura por certificado digital notarizado ou por assinatura digital das partes (pelo e-Notariado), tendo por objeto criar, modificar ou extinguir direito.
Nos termos do art. 2º do referido provimento, considera-se:
[…]
II – certificado digital notarizado: identidade digital de uma pessoa física ou jurídica, identificada presencialmente por um notário a quem se atribui fé pública;
III – assinatura digital: resumo matemático computacionalmente calculado a partir do uso de chave privada e que pode ser verificado com o uso de chave pública, cujo certificado seja conforme a Medida Provisória n. 2.200-2/2001 ou qualquer outra tecnologia autorizada pela lei;
[…]
(não grifado no original)
COMPETÊNCIA NOTARIAL (ESCRITURAS): ONDE POSSO LAVRAR MINHA ESCRITURA DE FORMA ELETRÔNICA OU DIGITAL?
Nos termos do art. 8º da Lei nº. 8.935/94, é livre a escolha do tabelião de notas, qualquer que seja o domicílio das partes ou o lugar de situação dos bens objeto do ato ou negócio.
O artigo 19 (§2º) do Provimento n. 100/2020 do CNJ define que é competente para a lavratura da escritura eletrônica ou digital o tabelião de notas do ESTADO FEDERATIVO do imóvel, quando o adquirente tiver domicílio neste mesmo Estado.
Em termos matemáticos: COMPETÊNCIA NOTARIAL = ADQUIRENTE + IMÓVEL em qualquer município do Estado do respectivo tabelionato, ainda que em município diverso.
Neste sentido, segue ementa abaixo:
Considera-se adquirente “o comprador, a parte que está adquirindo direito real ou a parte em relação à qual é reconhecido crédito.” (art. 19, § 3º, do Provimento 100/2020 do CNJ).
“Quando houver um ou mais imóveis de diferentes circunscrições no mesmo ato notarial, será competente para a prática de atos remotos o tabelião de quaisquer delas.” (art. 19, §1º, do Provimento 100/2020 do CNJ).
Assim, por exemplo, é possível realizar escritura digital ou eletrônica no Cartório de Urupês-SP, quando o adquirente residir em qualquer município ou cidade do Estado de São Paulo E o imóvel estiver localizado neste Estado.
É correto afirmar, portanto, que é possível lavrar escritura eletronicamente ou digitalmente no Cartório Urupês, ainda que haja vendedor ou transmitente residente no exterior ou nas seguintes regiões ou Estados do Brasil: Centro-Oeste -Goiás (GO), Mato Grosso (MT), Mato Grosso do Sul (MS) e o Distrito Federal (DF), Norte- Acre (AC), Amazonas (AM), Amapá (AP), Pará (PA), Rondônia (RO), Roraima (RR) e Tocantins (TO), Nordeste- Alagoas (AL), Bahia (BA), Ceará (CE), Maranhão (MA), Piauí (PI), Pernambuco (PE), Paraíba (PB), Rio Grande do Norte (RN) e Sergipe (SE), Sul- Paraná (PR), Rio Grande do Sul (RS) e Santa Catarina (SC) ou Sudeste- Espírito Santo (ES), Minas Gerais (MG), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP).
É a modernização da atividade notarial e registral. Por exemplo: o Cartório Urupês, que está situado no Noroeste Paulista (próximo de São José do Rio Preto, Catanduva, Mirassol, Novo Horizonte, Sales, Ibirá, Irapuã, Uchoa, Potirendaba, Itajobi etc.), pode atender o país todo, de forma eletrônica ou digital.
A escritura digital ou eletrônica facilita a vida corrida dos usuários dos cartórios. É possível, por exemplo, contato inicial via WhatsApp (clique aqui) para melhor orientação do usuário ou cliente.
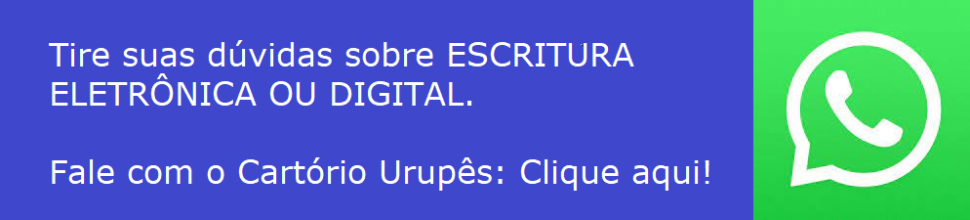
COMPETÊNCIA NOTARIAL (PROCURAÇÃO): ONDE POSSO LAVRAR MINHA PROCURAÇÃO DE FORMA ELETRÔNICA OU DIGITAL?
“A lavratura de procuração pública eletrônica caberá ao tabelião do domicílio do outorgante ou do local do imóvel, se for o caso” (art. 20, parágrafo único, do Provimento 100/2020 do CNJ).
Assim, por exemplo, a procuração pública pode ser formalizada no Cartório Urupês quando o imóvel estiver localizado em Urupês-SP, ou quando o outorgante tiver domicílio nesta cidade.
Da mesma forma da escritura eletrônica, é possível contato inicial via WhatsApp (clique aqui) para melhor orientação do usuário ou cliente.
COMPETÊNCIA NOTARIAL (ATA NOTARIAL): ONDE POSSO LAVRAR MINHA ATA NOTARIAL DE FORMA ELETRÔNICA OU DIGITAL?
Art. 20. Ao tabelião de notas da circunscrição do fato constatado ou, quando inaplicável este critério, ao tabelião do domicílio do requerente compete lavrar as atas notariais eletrônicas, de forma remota e com exclusividade por meio do e-Notariado, com a realização de videoconferência e assinaturas digitais das partes.
Parágrafo único. A lavratura de procuração pública eletrônica caberá ao tabelião do domicílio do outorgante ou do local do imóvel, se for o caso. (Provimento 100/2020 do CNJ)
No Livro “O Que Você Precisa Saber sobre o Cartório De Notas (Editora Crono, 2016, Autor Luís Ramon Alvares)”, consta o seguinte sobre ata notarial:
O que é ata notarial?
A ata notarial é uma escritura pública lavrada pelo Tabelião. É o instrumento pelo qual o notário, dotado de fé pública, autentica fatos em seu livro de notas (art. 6º, III, da Lei n. 8.935/94).
[…]
Posso utilizar a ata notarial para fazer prova de publicações na internet?
Muito utilizada é a ata notarial de conteúdo de sites e informações publicadas na internet, especialmente para fazer prova contra o seu autor. Um bom exemplo é a mensagem pejorativa publicada em redes sociais. Não há dúvida da utilidade da ata notarial, pois o texto pode ser facilmente apagado ou editado pelo seu autor. Se houver ata notarial, neste caso, o tabelião de notas, dotado de fé pública, autenticará pela ata notarial- que ficará, para sempre no seu livro de notas, o que de fato estava escrito na mensagem apagada ou editada; a ata, com conteúdo da mensagem, fará prova contra o seu autor.
Posso utilizar a ata notarial para fazer prova em procedimento de usucapião?
Sim. É possível a utilização da ata notarial como meio de prova em procedimento de usucapião. Nesta espécie de ata notarial, o tabelião atestará a posse do bem (móvel ou imóvel) em favor do requerente e dos seus antecessores, se for o caso. Convém observar que, nos termos do art. 216-A da Lei nº. 6.015/73, acrescido pela Lei nº 13.105/05 (Novo Código de Processo Civil, com vigência a partir de 17 de março de 2016), é possível processar ou promover a usucapião de imóvel diretamente no Registro de Imóveis, sem necessidade de processo judicial, desde que seja lavrada ata notarial pelo tabelião de notas, atestando o tempo de posse do requerente e seus antecessores, conforme o caso e suas circunstâncias. O tabelião diligente, desde que autorizado pelo interessado, encaminhará, ao Registro de Imóveis, a (i) ata notarial, juntamente com os seguintes documentos: (ii) planta e memorial descritivo assinado por profissional legalmente habilitado, com prova de anotação de responsabilidade técnica no respectivo conselho de fiscalização profissional, e pelos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes; (iii) certidões negativas dos distribuidores da comarca da situação do imóvel e do domicílio do requerente; (iv) justo título ou quaisquer outros documentos que demonstrem a origem, a continuidade, a natureza e o tempo da posse, tais como o pagamento dos impostos e das taxas que incidirem sobre o imóvel.
Para quê mais serve a ata notarial?
Difícil será apresentar um rol exaustivo, pois a ata notarial poderá ser empregada como meio de prova em muitas situações.
Outros exemplos de ata notarial: comprovar o estado de conservação de móveis ou imóveis (na entrega de chaves ou transmissão de posse), atestar a presença de pessoas em determinado lugar, relatar a ocorrência de qualquer fato e descrever objetivamente o que pode ser observado em condições normais diante de pessoas, bens ou coisas.
O quê o novo Código de Processo Civil diz sobre a ata notarial?
O Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) assim dispõe sobre a ata notarial na Seção III do Capítulo XII (Capítulo das Provas):
Seção III
Da Ata Notarial
Art. 384. A existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados, a requerimento do interessado, mediante ata lavrada por tabelião.
Parágrafo único. Dados representados por imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos poderão constar da ata notarial.
ESCRITURA REALIZADA ELETRONICAMENTE OU DIGITALMENTE TEM OS MESMOS EFEITOS DA ESCRITURA ASSINADA FISICAMENTE?
Sim. Conforme art. 17 do Provimento n. 100/2020 do CNJ, “os atos notariais celebrados por meio eletrônico produzirão os efeitos previstos no ordenamento jurídico quando observarem os requisitos necessários para a sua validade, estabelecidos em lei e neste provimento”.
QUAIS ESCRITURAS PÚBLICAS PODEM SER FORMALIZADAS POR MEIO DIGITAL?
Todas. Dentre as escrituras destacam-se as seguintes:
- Venda e compra,
- Doação;
- Permuta ou troca;
- Instituição de servidão comum ou servidão administrativa;
- Instituição ou reserva de usufruto, de uso, ou direito real de habitação;
- Instituição de hipoteca e de anticrese;
- Atos do art. 108 do Código Civil;
- Lavratura de pacto antenupcial (art. 1.653 do Código Civil);
- Instituição de Fundação (art. 62 do Código Civil);
- Instituição de bem de família (art. 1.711 do Código Civil);
- Constituição de renda (art. 807 do Código Civil);
- Cessão de direito hereditários (art. 1.793 do Código Civil);
- Constituição de Direito Real de Superfície (art. 1.369 do Código Civil).
- União Estável;
- Contrato de Namoro;
- Convenção e instituição de condomínio;
- Reconhecimento de filhos;
- Inventário e Partilha;
- Separação e divórcio;
- Cessão de crédito;
- Doação;
- Transação;
- Constituição de Sociedade.
É POSSÍVEL QUE HAJA ATO HÍBRIDO- ESCRITURA HÍBRIDA OU MISTA (UMA OU MAIS PARTES ASSINAM COM CERTIFICADO OU ASSINATURA DIGITAL E OUTRA(S) ASSINA(M) O ATO FISICAMENTE)?
Sim. Nos termos do art. 30 do Provimento 100/2020 do CNJ, “fica autorizada a realização de ato notarial híbrido, com uma das partes assinando fisicamente o ato notarial e a outra, a distância, nos termos desse provimento.”
COMO É FEITA A ESCRITURA DIGITAL OU ELETRÔNICA?
- Os interessados encaminham a documentação física ou virtualmente, a depender do tabelionato de notas. No Cartório de Urupês, por exemplo, pode-se encaminhar a documentação inicial por WhatsApp (clique aqui).
- Após a verificação da documentação, normalmente, o cartório envia a minuta do ato (escritura pública ou procuração, p.ex.) para eventual correção ou observação pelos interessados.
- Há a realização de videoconferência para manifestação de concordância das partes com os termos do ato realizado.
- As partes devem assinar digitalmente o ato notarial (escritura pública ou procuração).
O QUE PRECISO TER PARA CONSEGUIR FAZER UMA ESCRITURA DIGITAL OU ELETRÔNICA? COMO SE DÁ A PREPARAÇÃO DO INTERESSADO PARA ASSINAR A REFERIDA ESCRITURA?
- As partes devem apresentar documento de identidade eletrônico válido (art. 18, caput, do referido provimento).
- Deve-se apresentar comprovante de domicílio, quando o caso.
A comprovação do domicílio, em qualquer das hipóteses deste provimento, será realizada:
I – em se tratando de pessoa jurídica ou ente equiparado: pela verificação da sede da matriz, ou da filial em relação a negócios praticados no local desta, conforme registrado nos órgãos de registro competentes.
II – em se tratando de pessoa física: pela verificação do título de eleitor, ou outro domicílio comprovado.
Parágrafo único. Na falta de comprovação do domicílio da pessoa física, será observado apenas o local do imóvel, podendo ser estabelecidos convênios com órgãos fiscais para que os notários identifiquem, de forma mais célere e segura, o domicílio das partes (art. 21 do Prov. 100/2020 do CNJ).
- As partes que assinarão o ato precisam ter certificado digital válido. Para tanto, recomenda-se, antes da prática do ato, verificar se o certificado digital está devidamente instalado no seu computador. Para realizar o teste, tente acessar o ambiente interno da Receita Federal com o seu certificado digital:https://sso.acesso.gov.br/login?client_id=cav.receita.fazenda.gov.br. Se não conseguir acessar, entre em contato com o suporte do emissor do seu certificado digital.
- As partes devem estar preparadas para:
- Videoconferência. Clique aqui e veja como será feita a videoconferência (vídeo explicativo)!
- Assinatura do ato: Clique aqui e veja como será feita a assinatura do ato (vídeo explicativo)
- O Extensor PKI deve ser instalado no navegador do cliente (vide vídeo da assinatura do ato (4,b, acima).
SOU TABELIÃO. COMO FAÇO PARA LAVRAR O ATO?
Seguem abaixo recomendações para o tabelião.
ORIENTAÇÕES – DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO
É importante que o tabelião peça a via original de identificação eletrônica e promova a verificação do item 18 do Provimento 100/2020 do CNJ, a saber:
Art. 18. A identificação, o reconhecimento e a qualificação das partes, de forma remota, será feita pela apresentação da via original de identidade eletrônica e pelo conjunto de informações a que o tabelião teve acesso, podendo utilizar-se, em especial, do sistema de identificação do e-Notariado, de documentos digitalizados, cartões de assinatura abertos por outros notários, bases biométricas públicas ou próprias, bem como, a seu critério, de outros instrumentos de segurança.
-
1º O tabelião de notas poderá consultar o titular da serventia onde a firma da parte interessada esteja depositada, devendo o pedido ser atendido de pronto, por meio do envio de cópia digitalizada do cartão de assinatura e dos documentos via correio eletrônico.
-
2º O Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal poderá implantar funcionalidade eletrônica para o compartilhamento obrigatório de cartões de firmas entre todos os usuários do e-Notariado.
-
3º O armazenamento da captura da imagem facial no cadastro das partes dispensa a coleta da respectiva impressão digital quando exigida.
ORIENTAÇÕES- VIDEOCONFERÊNCIA
- No início da videoconferência, o tabelião/escrevente deve indicar:
- a) a data e a hora do seu início;
- b) o respectivo livro e folha;
- c) o horário da prática do ato notarial;
- d) o nome por inteiro dos participantes.
- Deve-se fazer a identificação das partes. Sugere-se perguntar individualmente (e confrontar com a identidade da parte, especialmente foto):
- Nome;
- Data de nascimento;
- Nome da mãe.
- Deve-se identificar os seguintes elementos essenciais do ato:
- objeto; e
- preço do negócio pactuado.
- Sugere-se a leitura do ato (integralmente), esclarecendo eventuais dúvidas e questionamentos que forem feitos.
- Sugere-se fazer as seguintes perguntas para as partes (INDIVIDUALMENTE)- cf. sugestão do CNB/SP:
- a) O(a) senhor(a) aceita o presente instrumento?
- b) O(a) senhor(a) aceita o conteúdo do ato que lhe foi lido?
- c) O(a) senhor(a) compreendeu inteiramente o teor do ato e este representa fielmente sua vontade?
- d) O(a) senhor(a) tem dúvidas sobre os efeitos do ato e suas consequências?
- e) O(a) senhor(a) aceita o instrumento tal como redigido e lavrado, e o faz sem reservas e sem incorrer em erro, dolo, coação, fraude, má-fé ou outro vício do consentimento?
- Sugere-se perguntar a todos: “Ficou alguma dúvida?”
- No final, deve-se informar a hora do término da videoconferência.
ORIENTAÇÕES PROCEDIMENTAIS
- Acessar https://www.e-notariado.org.br.
- “Entrar” como notário.
- Acessar “Ato Eletrônico- Crie fluxos de assinaturas digitais de seus atos notariais eletrônicos.”
- Clicar “Novo documento”.
- Fazer upload do PDF-A da escritura.
- Preencher campos.
- Salvar na pasta correspondente (Escritura Digital ou Escrituras Híbridas).
- Adicionar signatários que irão assinar com certificado digital (SOMENTE ESTES).
- Quando liberar o link da videoconferência, enviar para as partes.
- Iniciar gravação (não esquecer)!
- Editar e Imprimir “Marcas de Assinatura” em PÁGINA ADICIONAL no LIVRO DE ESCRITURA (deixar 1 página em branco para isso).
- Fazer upload do traslado digital.
- Arquivar os documentos eletrônicos de identidade apresentados.
- Arquivar o arquivo da videoconferência.
ORIENTAÇÕES NA PRÁTICA DO ATO NOTARIAL ELETÔNICO OU DIGITAL
Recomenda-se constar o seguinte das escrituras eletrônicas ou digitais:
- O horário da lavratura do ato:
S A I B A M quantos esta Pública Escritura de Inventário e Partilha virem que, aos (dias) de (mês) de dois mil e vinte (XX/XX/XXXX) nesta cidade e Comarca de Urupês, do Estado de São Paulo, no Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos, situado na Rua Gonçalves Lêdo, n.º 774, Fone: (17)-3552-1469, às 16:55, […]
- As seguintes informações:
Certifico que XXXX, XXXX e XXXX, já qualificadas, concordaram com o termos do presente ato, tendo manifestado sua vontade por meio de videoconferência realizada em XX/XX/XXXX, a partir das XX:XX, arquivada em classificador eletrônico, e assinatura por meio de certificado digital aposto no documento eletrônico que contém os exatos termos desta escritura pública e que se encontra arquivado na pasta eletrônica, tudo nos termos do Provimento n. 100/2020 do Conselho Nacional da Justiça (CNJ)..
[…]
Matrícula Notarial Eletrônica (MNE): vide final da escritura (Consulte a validade do ato notarial em www.docautentico.com.br/valida).
(assinaturas com certificado digital)
(impressão de QR CODE)
*obtido no e-notariado
- Imprimir, em PÁGINA ADICIONAL, no Livro de Notas, “Marcas de Assinatura” (gerada pelo e-Notariado).
* Luís Ramon Alvares é tabelião de notas e protesto de letras e títulos em Urupês/SP. Exerceu, por mais de 12 anos, a função de 1º Substituto do Oficial do 2º Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de São José dos Campos/SP. É mestre em Políticas Públicas e especialista em Direito Notarial e Registral e em Direito Civil. É autor de O que você precisa saber sobre o Cartório de Notas (Editora Crono, 2016) e de Como Comprar Imóvel com Segurança- o Guia Prático do Comprador. É idealizador e organizador do Portal do RI- Registro de Imóveis (www.PORTALdoRI.com.br) e editor e colunista do Boletim Eletrônico, diário e gratuito, do Portal do RI. É autor de diversos artigos publicados em revistas especializadas, especialmente em direito notarial e registral.




